Sunday, June 25, 2006
Saturday, June 24, 2006

Não muito longe dalí, no palco do evento o apresentador chama seu nome. Todos olham ao redor a sua procura. Onde estaria Celma ? O que seria mais importante do que o prêmio que lhe dedicavam? Mas nada mais importava. Os olhos verdes agora olhavam o infinito, enquanto aos seus pés sua melhor amiga dormia tranquila, esperando ela acordar... do sono eterno.
Thursday, June 22, 2006

A condessa chega em casa após uma grande festa. Em um palacete suspenso nos jardins, estavam todos seus amigos, amores, família. Bebeu prosecco e riu, ou melhor, gargalhou a noite inteira. Sua presença era como um brilhante que ofuscava e atrai todos os olhares. Regina nunca esteve tão feliz, mais que nunca tinha a certeza que tudo estava certo, tudo estava perfeito. Em casa , ao som de Billy Hollyday, preparou um dry-martini, leu um pouco de Chanel e apenas sentiu um calor percorrendo seu corpo, que logo não era mais seu...
Sunday, June 11, 2006
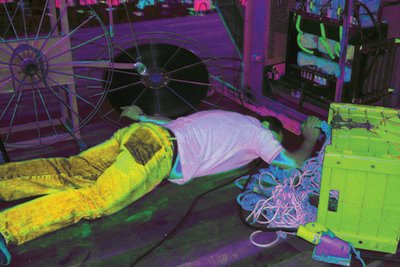
Cirilo se encantava não mais com os filmes, que já os decorava de tanto que os projetava todas as noites. Passou na verdade a olhar a reação das pessoas, observar os detalhes da expressões, das mãos, dos toques. Ficava emocionado quando um casal enamorava-se com timidez em um primeiro encontro, em um primeiro amor. Sorria quando via os olhos das crianças, vivos e alegres, que saltavam de emoção por entregar-se a grande tela e ver a vida por outros olhos. Um dia pensou ter se visto sentado na terceira fila, que estranho!, pensou. Quando deu por sí, não estava mais em lugar nenhum.
Saturday, June 03, 2006
 Hotéis são celas cenográficas, são não-lugares, pensou. Nem havia desarrumado a mala e agora esperava o serviço de quarto, para tirar seu corpo e deixar o quarto cheiroso para o próximo
Hotéis são celas cenográficas, são não-lugares, pensou. Nem havia desarrumado a mala e agora esperava o serviço de quarto, para tirar seu corpo e deixar o quarto cheiroso para o próximo
Dizem que foi algo que ele viu no espelho. Talvez não se reconhecesse mais. O que sei é ele olhou para o ralo da pia e disse suas últimas palavras: A cidade escoa/ecoa pelas frestas da solidão.
Morre-se todos os dias por aqui. Morre-se de fome e de sede, de gula e de saudade. Morre-se de amor, de desamor, de ciúmes, de dor; dormindo ou de desastre, gritando ou sem se aperceber. De tristeza também se morre; com saúde; informante ou informando, ciente ou sem saber. Morre-se aqui e em todo lugar, de uma morte lenta, diária, sem agravos ou prescrições, sem prazos ou documentos...
Schopenhauer galhofa dos tementes à morte. Ele recusa-se a encará-la como aniquilação absoluta. A morte para o indivíduo é como o sono para a espécie. A morte ou a vida de um ser singular não importa em nada. – esse é o seu credo, Bhagavad-Gita de Krishna. E neste círculo imutável do Brama o autor se fia para justificar o todo irracionalizável e metafísico da vontade.
Ora, outra saída para imortalidade, segundo o filósofo, é a infinitude da matéria bruta, do pó: Conheceis esse pó? Conheceis sua natureza e poder? Aprendei a conhecê-lo, antes de desprezá-lo.. Evidentemente, em suas combinações atômicas, Schopenhauer refere-se à possibilidade das recombinações infinitas dos elementos – hoje, eu sou eu; amanhã, posso ser uma estrela. No fundo, em seu arrazoado sobre a morte ser o fim exclusivamente da razão, do intelecto, o filósofo não deixa de demonstrar certo desespero em encarar a possibilidade finita do ser diante do nada. Tal argumento lhe é inteiramente absurdo. A imortalidade para Schopenhauer pressupõe uma outra forma infinita de existência, diferente da que conhecemos. As influências do budismo e do bramanismo na obra do autor são explícitas, e a saída metafísica, nada desonrosa.
Por que tamanha dificuldade em aceitar o fim? Preferimos aqui lançar, ainda que pobremente, as considerações de Heidegger: a consciência resoluta é aquela que, diante da grandeza da finalidade, compreende que sua razão de existir (ou na terminologia do filósofo: seu vir-a-ser) está fadada ao nada. As pessoas se assustam, se recusam, com violência, a aceitar – tudo isso para nada?! Qual o objetivo de nascermos, de termos razão, de construir, de lutar... para depois acabar? A filosofia de Schopenhauer é confortável neste sentido. Afinal, não se deve a razão preocupar com um tempo tão miseravelmente pequeno: o universo já havia antes de mim e continuará havendo depois. Nossa passagem é, deveras, insignificante. Mas não é esta a resposta satisfatória.
O acaso é a força motriz da roda do mundo, definindo aleatoriamente nossa existência, ao seu bel prazer, num imprevisível caos. Nada garante que amanhã será pior ou melhor do que hoje, que encontraremos nosso amor, que nos realizaremos profissionalmente. E a luta cotidiana que travamos para encontrar “na marra” nosso destino é desgastante e incerta para, ao final, chegarmos à conclusão da aniquilação absoluta. Sartre tem certa razão quando descreve a insuportabilidade de encarar essas conclusões. Admitir que se está fadado ao nada, sozinho num mundo desgovernado, é por demais insuportável. Admití-lo, obriga-nos a concluir que ao menos uma grande parcela de nossa vida está em nossas mãos, e a outra em decisões que não podemos controlar. Ora, que Oxalá, Javé, Buda, Krishna, Alá, o destino, os gnomos, os espíritos, etc. assumam esta outra parcela de responsabilidade e nos salvem das peripécias do acaso.
Viver, para Heidegger, está mais próximo de Tarefa, poema de Geir Campos: Morder o fruto amargo e não cuspir / Mas avisar aos outros o quanto é amargo // Cumprir o trato injusto e não falhar / Mas avisar aos outros o quanto é injusto // Sofrer o esquema falso e não ceder / Mas avisar aos outros o quanto é falso (...). Ou seja: é necessário fazer? Por quê?! Por que sim!
A morte final, portanto, escondida, afastada do mundo ao longo da história com toda força possível (como bem já demonstrado pela bibliografia histórica e psicanalítica) só nos leva à sublimação deste mal-estar pelo esquecimento, pelo envolvimento no cotidiano. Vivemos como se não fôssemos morrer, num eterno presente, numa imortalidade aparente, na melhor definição heideggeriana da alienação. Procuramos nos afastar deste mal-estar, como se ele não existisse, embora, cedo ou tarde, sejamos obrigados a tratá-lo, mesmo com todo desconforto possível. A inevitabilidade da morte é tão certa quanto o esforço diário para esquecê-la. Até mesmo o luto é prescritível – tem dias úteis e prazo de validade. Não se suporta uma pessoa que viva em luto eterno. Essa falsa artimanha, que malgrado consegue encobrir, aos olhos dos homens, o momento da aniquilação, da morte final, nada nos diz sobre a morte cotidiana, o perecimento diário, que nos corrói sem sentirmos.
Morremos todos os dias, aos poucos, do coração, da alma mesmo. Definhamos sem perceber.
A gente se acostuma com tudo!. Acho que essa é a maior das verdades que já ouvi. Nos acostumamos a calar, a consentir, a aceitar. Assim como nos acostumamos a reclamar, a xingar, a brigar. O condicionamento é mesmo algo incrível. Ninguém consegue ser genial por todo o tempo, ser sagaz, astuto, prolixo conscientemente. A maior parte da nossa vida passamos repetindo, sendo automáticos, cotidianos – é o nosso mecanismo natural de defesa contra um supra-desgaste de energia que rapidamente nos consumiria, pondo fim à nossa existência. Prova disso é que em épocas de grande medo e preocupação, menor é a expectativa de vida. Pessoas que têm uma vida objetivamente mais difícil, vivem menos. Tranqüilidade e paz de espírito é fundamental. Porém, a que pax estamos nos referindo? E quais de nós somos os indicadores mais recomendáveis para esta mensuração?
Quando Voltaire nos diz: Eu não sei o que é a vida eterna, mas esta é uma brincadeira de mau gosto., ele só pode, obviamente, estar se referindo a um desespero cotidiano, que vê na morte a saída última para um pórtico livre de atribulações – essa mesma morte que procuramos esquecer. Não seremos ingênuos a ponto de desconsiderar a relação dialética das coisas dos homens e cair no maniqueísmo de que o que presta, presta; o que não presta deve ser jogado fora. Tal que, mais uma vez, Schopenhauer nos lembra que Yama (deus hindu da morte) possui duas faces: uma horrível e temível e outra amável e benévola. Procurarmos no fim da vida a solução para a vida é algo que só pode ser explicado por uma presença constante, assombrada (e ao mesmo tempo escondida), deste elemento – a morte – diariamente, no nosso cotidiano. Não se ensina a desfrutar a liberdade, privando-a. Não se ensina a aplicação da responsabilidade sem a distribuição de funções, sem o balizamento de “causa e conseqüência”. Assim, não se tem vida sem fim da vida e não se vive todos os dias sem morrer-se todos os dias.
E morremos de diversas formas. Morremos de solidão, por esta inextinguível incomunicabilidade humana, imanente, que, por maior que seja o intercâmbio, nos deixa sempre com a sensação de que ele foi aquém do que poderia ter sido. E porque somos transitivos, estamos sempre sujeitos à determinação e contextualização propiciadas pelo Outro, pelo complemento de nossa transitividade. Sem entrar em devaneios lingüísticos, temos no Outro muito mais que simples objeto de nossas ações. Ele é nosso predicado, nosso advérbio, nossos adjuntos. Como bem lembra Heidegger: ser é ser-no-mundo e ser-no-tempo. Ser, não é ser-atemporal, deslocado, desconectado – é ser-histórico, contextual. E nesse jogo em que nos tornamos conotativos, contextuais, morremos pela dificuldade em conjugar a ditadura de nossa auto-identidade com a ditadura da transitividade. Em suma, morremos nesta dinâmica obrigatória de determinar o nosso espaço e de sermos determinados no espaço, pelo Outro (a alienação lacaniana).
Morremos objetivamente também. Pela nossa impotência técnica, política e social. Morremos no Outro; agonizamos em sua fome. Tornamo-nos referência pelo contraste. Somos o anti-Outro (assim como o outro é o anti-Eu – por isso aparece neste texto sempre com inicial maiúscula). Morremos porque temos oportunidade, e os outros não. Ou porque não temos oportunidades, e os outros têm. Morremos como humanos, diante da aniquilação bestial, coletiva. Diante do massacre diário. Sofremos sim, fome cultural, mas, bem mais que isso, sofremos fome de comida, de vida, de cidadania, de sermos sujeitos. E nessas barreiras objetivas, onde se criam e se perdem mundos distintos, morremos, mais uma vez, pela falta de referência, pela inexistência do Outro, que condenamos ao esquecimento, à inexistência, matando todos os dias com nossa indiferença.
Morremos, por fim, na prisão da identidade, do dever-ser, que nos enforma, que nos cobra posições e impostos. Que transforma nossas subjetividades em shows de contorcionismos, aprisionadas em caixas pré-fabricadas – afinal, temos um nome a zelar!
Morremos todos os dias. Morremos vivendo; objetivamente. Morremos de miséria, de desgraça. Morremos dentro de nós mesmos. Assim, a vida nos anuncia: é preciso lutar pelo que valha a pena! É preciso transformar nossa morte-vida vã diária em vida-morte com sentido, útil – à nossa transitividade e, imperativamente, ao nosso mais natural complemento.
Alexandre Aranha - publicado originalmente no site Poppycorn
Schopenhauer galhofa dos tementes à morte. Ele recusa-se a encará-la como aniquilação absoluta. A morte para o indivíduo é como o sono para a espécie. A morte ou a vida de um ser singular não importa em nada. – esse é o seu credo, Bhagavad-Gita de Krishna. E neste círculo imutável do Brama o autor se fia para justificar o todo irracionalizável e metafísico da vontade.
Ora, outra saída para imortalidade, segundo o filósofo, é a infinitude da matéria bruta, do pó: Conheceis esse pó? Conheceis sua natureza e poder? Aprendei a conhecê-lo, antes de desprezá-lo.. Evidentemente, em suas combinações atômicas, Schopenhauer refere-se à possibilidade das recombinações infinitas dos elementos – hoje, eu sou eu; amanhã, posso ser uma estrela. No fundo, em seu arrazoado sobre a morte ser o fim exclusivamente da razão, do intelecto, o filósofo não deixa de demonstrar certo desespero em encarar a possibilidade finita do ser diante do nada. Tal argumento lhe é inteiramente absurdo. A imortalidade para Schopenhauer pressupõe uma outra forma infinita de existência, diferente da que conhecemos. As influências do budismo e do bramanismo na obra do autor são explícitas, e a saída metafísica, nada desonrosa.
Por que tamanha dificuldade em aceitar o fim? Preferimos aqui lançar, ainda que pobremente, as considerações de Heidegger: a consciência resoluta é aquela que, diante da grandeza da finalidade, compreende que sua razão de existir (ou na terminologia do filósofo: seu vir-a-ser) está fadada ao nada. As pessoas se assustam, se recusam, com violência, a aceitar – tudo isso para nada?! Qual o objetivo de nascermos, de termos razão, de construir, de lutar... para depois acabar? A filosofia de Schopenhauer é confortável neste sentido. Afinal, não se deve a razão preocupar com um tempo tão miseravelmente pequeno: o universo já havia antes de mim e continuará havendo depois. Nossa passagem é, deveras, insignificante. Mas não é esta a resposta satisfatória.
O acaso é a força motriz da roda do mundo, definindo aleatoriamente nossa existência, ao seu bel prazer, num imprevisível caos. Nada garante que amanhã será pior ou melhor do que hoje, que encontraremos nosso amor, que nos realizaremos profissionalmente. E a luta cotidiana que travamos para encontrar “na marra” nosso destino é desgastante e incerta para, ao final, chegarmos à conclusão da aniquilação absoluta. Sartre tem certa razão quando descreve a insuportabilidade de encarar essas conclusões. Admitir que se está fadado ao nada, sozinho num mundo desgovernado, é por demais insuportável. Admití-lo, obriga-nos a concluir que ao menos uma grande parcela de nossa vida está em nossas mãos, e a outra em decisões que não podemos controlar. Ora, que Oxalá, Javé, Buda, Krishna, Alá, o destino, os gnomos, os espíritos, etc. assumam esta outra parcela de responsabilidade e nos salvem das peripécias do acaso.
Viver, para Heidegger, está mais próximo de Tarefa, poema de Geir Campos: Morder o fruto amargo e não cuspir / Mas avisar aos outros o quanto é amargo // Cumprir o trato injusto e não falhar / Mas avisar aos outros o quanto é injusto // Sofrer o esquema falso e não ceder / Mas avisar aos outros o quanto é falso (...). Ou seja: é necessário fazer? Por quê?! Por que sim!
A morte final, portanto, escondida, afastada do mundo ao longo da história com toda força possível (como bem já demonstrado pela bibliografia histórica e psicanalítica) só nos leva à sublimação deste mal-estar pelo esquecimento, pelo envolvimento no cotidiano. Vivemos como se não fôssemos morrer, num eterno presente, numa imortalidade aparente, na melhor definição heideggeriana da alienação. Procuramos nos afastar deste mal-estar, como se ele não existisse, embora, cedo ou tarde, sejamos obrigados a tratá-lo, mesmo com todo desconforto possível. A inevitabilidade da morte é tão certa quanto o esforço diário para esquecê-la. Até mesmo o luto é prescritível – tem dias úteis e prazo de validade. Não se suporta uma pessoa que viva em luto eterno. Essa falsa artimanha, que malgrado consegue encobrir, aos olhos dos homens, o momento da aniquilação, da morte final, nada nos diz sobre a morte cotidiana, o perecimento diário, que nos corrói sem sentirmos.
Morremos todos os dias, aos poucos, do coração, da alma mesmo. Definhamos sem perceber.
A gente se acostuma com tudo!. Acho que essa é a maior das verdades que já ouvi. Nos acostumamos a calar, a consentir, a aceitar. Assim como nos acostumamos a reclamar, a xingar, a brigar. O condicionamento é mesmo algo incrível. Ninguém consegue ser genial por todo o tempo, ser sagaz, astuto, prolixo conscientemente. A maior parte da nossa vida passamos repetindo, sendo automáticos, cotidianos – é o nosso mecanismo natural de defesa contra um supra-desgaste de energia que rapidamente nos consumiria, pondo fim à nossa existência. Prova disso é que em épocas de grande medo e preocupação, menor é a expectativa de vida. Pessoas que têm uma vida objetivamente mais difícil, vivem menos. Tranqüilidade e paz de espírito é fundamental. Porém, a que pax estamos nos referindo? E quais de nós somos os indicadores mais recomendáveis para esta mensuração?
Quando Voltaire nos diz: Eu não sei o que é a vida eterna, mas esta é uma brincadeira de mau gosto., ele só pode, obviamente, estar se referindo a um desespero cotidiano, que vê na morte a saída última para um pórtico livre de atribulações – essa mesma morte que procuramos esquecer. Não seremos ingênuos a ponto de desconsiderar a relação dialética das coisas dos homens e cair no maniqueísmo de que o que presta, presta; o que não presta deve ser jogado fora. Tal que, mais uma vez, Schopenhauer nos lembra que Yama (deus hindu da morte) possui duas faces: uma horrível e temível e outra amável e benévola. Procurarmos no fim da vida a solução para a vida é algo que só pode ser explicado por uma presença constante, assombrada (e ao mesmo tempo escondida), deste elemento – a morte – diariamente, no nosso cotidiano. Não se ensina a desfrutar a liberdade, privando-a. Não se ensina a aplicação da responsabilidade sem a distribuição de funções, sem o balizamento de “causa e conseqüência”. Assim, não se tem vida sem fim da vida e não se vive todos os dias sem morrer-se todos os dias.
E morremos de diversas formas. Morremos de solidão, por esta inextinguível incomunicabilidade humana, imanente, que, por maior que seja o intercâmbio, nos deixa sempre com a sensação de que ele foi aquém do que poderia ter sido. E porque somos transitivos, estamos sempre sujeitos à determinação e contextualização propiciadas pelo Outro, pelo complemento de nossa transitividade. Sem entrar em devaneios lingüísticos, temos no Outro muito mais que simples objeto de nossas ações. Ele é nosso predicado, nosso advérbio, nossos adjuntos. Como bem lembra Heidegger: ser é ser-no-mundo e ser-no-tempo. Ser, não é ser-atemporal, deslocado, desconectado – é ser-histórico, contextual. E nesse jogo em que nos tornamos conotativos, contextuais, morremos pela dificuldade em conjugar a ditadura de nossa auto-identidade com a ditadura da transitividade. Em suma, morremos nesta dinâmica obrigatória de determinar o nosso espaço e de sermos determinados no espaço, pelo Outro (a alienação lacaniana).
Morremos objetivamente também. Pela nossa impotência técnica, política e social. Morremos no Outro; agonizamos em sua fome. Tornamo-nos referência pelo contraste. Somos o anti-Outro (assim como o outro é o anti-Eu – por isso aparece neste texto sempre com inicial maiúscula). Morremos porque temos oportunidade, e os outros não. Ou porque não temos oportunidades, e os outros têm. Morremos como humanos, diante da aniquilação bestial, coletiva. Diante do massacre diário. Sofremos sim, fome cultural, mas, bem mais que isso, sofremos fome de comida, de vida, de cidadania, de sermos sujeitos. E nessas barreiras objetivas, onde se criam e se perdem mundos distintos, morremos, mais uma vez, pela falta de referência, pela inexistência do Outro, que condenamos ao esquecimento, à inexistência, matando todos os dias com nossa indiferença.
Morremos, por fim, na prisão da identidade, do dever-ser, que nos enforma, que nos cobra posições e impostos. Que transforma nossas subjetividades em shows de contorcionismos, aprisionadas em caixas pré-fabricadas – afinal, temos um nome a zelar!
Morremos todos os dias. Morremos vivendo; objetivamente. Morremos de miséria, de desgraça. Morremos dentro de nós mesmos. Assim, a vida nos anuncia: é preciso lutar pelo que valha a pena! É preciso transformar nossa morte-vida vã diária em vida-morte com sentido, útil – à nossa transitividade e, imperativamente, ao nosso mais natural complemento.
Alexandre Aranha - publicado originalmente no site Poppycorn

